O livro “23 Elegias da Mão Esquerda” foi lançado na Casa da Escrita, em Coimbra, em 21 de outubro de 2017. Esse livro foi escrito pelo poeta Álvaro Alves de Faria em setembro/outubro de 2014-2015, em Coimbra. No lançamento, a apresentação foi feita pela poeta portuguesa Leocádia Regalo, que fez uma análise competente dos 23 poemas, que o leitor poderá ler nesta página. Na oportunidade, falaram também o poeta curador da Casa da Escrita, a ensaísta e professora da Universidade de Coimbra Graça Capinha e o poeta e editor Jorge Fragoso, que publicou o livro.

PALAVRAS DO POETA
ÁLVARO ALVES DE FARIA
Cada vez que chego a Portugal tenho a sensação de estar voltando para casa. Depois sinto não ser somente uma sensação. É algo maior, mais fundo, mais palpável. Eu estou voltando mesmo para casa. Só me falta viver aqui, que, mesmo a esta altura da vida, está nos meus planos.
Este livro “23 elegias da mão esquerda”, publicado pela Palimage de meu amigo querido Jorge Fragoso, poeta e editor, foi escrito em Coimbra, em dois anos que aqui estive, nos meses setembro/outubro. Portanto, guarda essa linguagem da poesia portuguesa que tanto busquei para minha poesia, num trabalho de 15 anos.
Acho que tenho esse trabalho por terminado. Explico: o que eu mais desejava para minha poesia era esse ritmo da poesia de Portugal, essa melodia da poesia de Portugal, essas palavras da Poesia de Portugal, terra de meus pais, onde tenho toda minha família.
Há mais de 15 anos fugi para Portugal em busca dessa poesia que falta ao meu país, que se chama Brasil e que, atualmente, está caindo aos pedaços graças às verdadeiras quadrilhas que, no poder, roubaram o quanto puderam, até mergulhar o país num poço sem fundo.
No Brasil, hoje, mede-se tudo pela mediocridade, infelizmente.
E isso atingiu também a literatura e as artes em geral. A poesia especialmente.
Costumo dizer que faz mais de 15 anos que o Brasil não tem ministro da Cultura.
E essa poesia medíocre, particularizando essa questão, é enaltecida por um jornalismo chamado cultural realizado por gente que não tem compromisso com nada.
Evidentemente não estou generalizando, nem posso, nem faria isso por não ser verdadeiro.
O Brasil tem, sim, excelentes poetas que têm vergonha de sair a público e guardam suas obras na gaveta.
Isso não acontece comigo, felizmente. Mas é como se acontecesse. Por isso hoje me sinto todo quebrado, com os ossos parafusados uns aos outros e os pensamentos cada vez mais alucinados de visões de sombras.
Claro que a poesia não é essa tragédia, mas depende do poeta.
Hoje eu percebo que escrevo meus poemas sombrios iguais àqueles que escrevia no tempo da ditadura.
O Brasil vive um tempo de patrulhamento brutal. Um país dividido entre o “nós” e o “eles”.
Quer dizer, chegamos à loucura completa, com falsos salvadores da pátria ainda soltos. Um Governo que não sabe o que fazer da vida, um Congresso repleto de ladrões e um Judiciário cheio de celebridades que dão entrevistas todos os dias quando o melhor seria calar a boca.
Bem, já repeti esta história muitas vezes. Nunca muda nada. Ou se muda é sempre para pior.
Prefiro, então, intercalar a esta minha fala, este poema do livro, que revela bem o que penso e sinto diante e mergulhado naquele caos.
*****
DA ESPERA
Nessa terra assim tardia, colhem-se as maçãs,
como as horas das manhãs, quietas ao passar do dia.
O verso que não sabia, das palavras aldeãs,
as camponesas irmãs, com a alma sempre vazia.
Colhem figos e as uvas, não para si por direito,
para o outro tudo é feito, na seda de suas luvas.
A isso, o choro das viúvas, da vida que não se cabe,
o que olha, mas não sabe o gosto das avelãs.
O fruto é de quem o colhe para colocar na mesa,
a fome que sempre pesa à boca que mais encolhe.
Mas a mão pouco acolhe, sendo ela a realeza,
que semeia essa riqueza e nada dela recolhe.
E pelo campo que se colhe, é dela, a camponesa,
a que chora em sua reza: quanto mais planta, menos colhe.
O destino não se escolhe, esse tempo de aspereza,
aquilo que sempre lesa, a liberdade que se tolhe.
Dizer não, em vez de sim, ao que se diz sempre amém,
que promete e nunca vem: não pode ser mais assim.
Nem pode ser sempre o fim, nem começo também,
aquilo que o prato tem, na toalha de cetim.
Longo é o tempo de espera, mas o tempo é do povo,
no que há de velho e de novo, nessa dor que sempre impera.
O tempo que desespera, na dor do homem esquecido,
de olhar sempre perdido, sem passem e sem quimera,
nessa dor sempre severa, ferindo mais o já ferido,
mas nesse tempo anoitecido ainda será Primavera.
*****
Sempre digo que o Brasil precisa de um povo. Se tivesse um povo esclarecido, que não se deixasse enganar – um povo, um povo, eu quero um povo – se o Brasil tivesse um povo, aquela indecência com homens traidores de si mesmo, não chegaria onde chegou.
Homens que se traíram sem qualquer constrangimento, rasgaram a própria biografia e preferiram esquecer tudo que se pregou por mais de 20 anos para, no poder, fazer pior dos que eram criticados. Infelizmente, eu estava nessa pregação pela ética, honestidade moral na política. Me enganei. Sou um cidadão traído.
E vamos à poesia. Não tenho a poesia como vaidade. Não tenho a poesia como um exercício literário que deve fazer bem à saúde. Tenho a poesia como resistência de vida. É preciso não esquecer da elaboração da poesia, do poema, como uma obra de arte que não pode ter deslizes e nem ceder às facilidades de um tempo de sombras que envolve quase tudo, o que torna tudo inútil.
A poesia é a arte da sabedoria e da sensibilidade do ser humano. Da sua intimidade mais íntima. Do que o poeta é capaz de dizer a si mesmo, com as palavras corretas. Sinceramente, é o que eu tento fazer desde meu primeiro livro, quando eu era ainda um adolescente.
O importante é que os poetas sejam mesmo poetas. Que saibam lidar com o tempo. E que saibam traduzir em palavras o que se chama angústia, essa ferida difícil de curar quando, infelizmente, quase todas as coisas estão doentes.


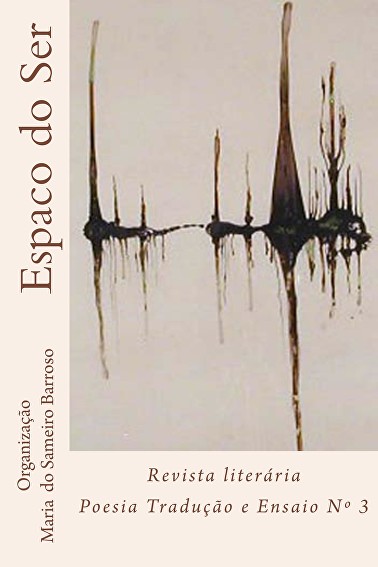
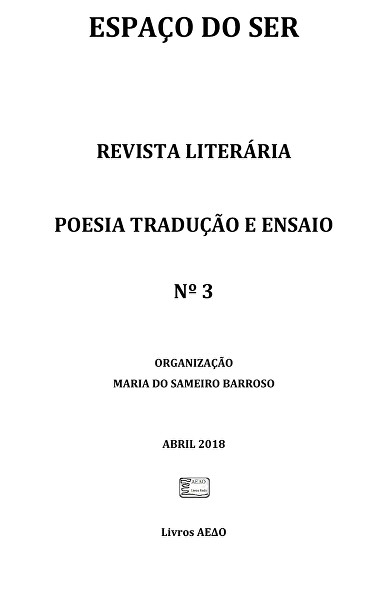
APRESENTAÇÃO DA POETA PORTUGUESA LEOCÁDIA REGALO
23 ELEGIAS DA MÃO ESQUERDA
ÁLVARO ALVES DE FARIA
Para os poetas da Antiguidade Clássica, a elegia era uma composição em verso que expressava os sentimentos mais íntimos, pessoais e profundos, muitas vezes relacionados com a morte, a passagem inexorável do tempo, a nostalgia. A elegia tem sido cultivada por muitos poetas, ao longo dos tempos, e detém, nos últimos séculos, na poesia universal, um lugar importante.
Nestas 23 Elegias da Mão Esquerda de Álvaro Aves de Faria, o universo poético transforma-se numa constatação meditativa sobre o entardecer da vida, em que o poeta se assume numa dimensão contemplativa, perante o já longo peregrinar que é avaliado em termos aparentemente disfóricos. Trata-se de uma poética da interioridade, confrontada com o desgaste do dia-a-dia, com a noção de vivência entre um mundo físico (e real) e um mundo de transcendência, problematizado em situações concretas, abstracções e alguns símbolos.
Recorrendo a uma fala solitária, monologada, o poeta reúne neste livro um curioso número de elegias, precisamente 23. Trata-se de um número com larga simbologia, enigmático, cabalístico, que envolve mistério; sendo um número primo, goza de características próprias, nomeadamente a indivisibilidade. Está ligado à origem da vida (as células somáticas têm 23 pares de cromossomas e consta que Adão e Eva tiveram 23 filhos), assim como é determinante no equilíbrio e movimento de rotação da Terra, que gira num eixo inclinado num ângulo de 23 graus. Também é um número com ressonâncias bíblicas e sagradas: o Livro dos Salmos é o 23º livro do Velho Testamento e o salmo 23, o mais conhecido.
A mão esquerda é tradicionalmente conotada com o lado nefasto. Segundo a cabala, a mão esquerda de Deus é aquela que faz justiça, incute rigor, amaldiçoa, contrariamente à mão direita de Deus que tem misericórdia, concede o perdão e abençoa. Sendo assim, a partir do título, fica aberto um percurso de leitura norteado pelo lado disfórico da existência.
Vejamos como se manifesta o poeta. Na Elegia 4, intitulada “ Das Sombras”, declara: Escrevo com a mão esquerda/ porque a direita perdeu os acenos, numa possível evocação das ausências e das perdas, forçadas ou não, daqueles a quem se “acenava” na linguagem dos afectos. Mas ainda: A elegia da mão esquerda diz mais que o poema/que desaparece sem deixar nada. ; assim se faz a elegia que não se completa/e morre antes da própria palavra. Ou seja, recusando a tranquilidade da beleza formal consagrada do poema, o poeta tem de expressar a realidade inevitável na elegia, rejeitando o repouso das certezas vivenciais e vendo-se a braços com a relação humana e com Deus.
Com que circunspecção e dúvida se escreve um poema? A transparência, tantas vezes procurada, parece não ser possível e é posta em causa por uma expressão sempre mais elaborada, mesmo que essa elaboração vise a nudez extrema para atingir um conhecimento do homem mais vasto, porém mais contraditório e incerto. O excesso de conhecimento, o contacto amargo com a realidade recaem sobre a criação poética. Porque a poesia se torna descoberta incessante, ela é o lugar duma dialéctica cruel entre o Nada e o Ser, a ausência e a presença, a palavra proferida com audácia e o silêncio do recolhimento.
As elegias deste livro funcionam como monólogos dramáticos em que são postos em contraste os poetas antigos e os poetas de agora. Como diz o poeta na primeira Elegia, os poetas antigos não existem mais; são os que já morreram; ainda pensam nas gaivotas/ naquele voo de asas longas a percorrer os caminhos da poesia; ainda notam o final das tardes/ quando o mar fica em silêncio/ como se as águas estivessem a adormecer. E os poetas de agora não sabem do sal das águas/ e pouco se importam com os dias e com a vida dos homens; escolhem os caminhos das luzes e do brilho à escuridão… Assim, os poetas antigos conhecem as figuras que povoam os versos/mesmo os mais inúteis escritos entre cinco soluços/ no derradeiro instante de tentar sobreviver a si mesmo. Estamos perante o conceito universal do poeta demiurgo, esse poeta-monge que se põe a viver/ o que só a morte ensina. É desta forma verdadeiramente marcante que Álvaro Alves de Faria abre o seu livro com a elegia intitulada “Da Poesia”.
Na Elegia 3 – “Do Poeta” – pode ler-se: Se um dia eu for poeta,/ escreverei somente poemas para os mortos. Escreverei a eles poemas dramáticos e dolorosos. As palavras terão então a cor roxa de uma quaresma. Escreverei (…) algumas palavras que também estarão mortas,/nada interessará. A morte é assim uma dominante nesta poesia elegíaca, como encenação alegórica que torna a criação poética próxima e familiar deste desenlace inevitável, apresentando-a como aceitável na ordem da vida e paradoxal para os poetas. Na Elegia 8 – Da Alma – o sujeito poético afirma: Os poetas não sabem morrer,/no entanto, morrem a toda a hora/ ontem, depois, amanhã, agora,/e pensam sempre viver.”
A vida e a morte aparecem ligadas ao acto poético como uma condição do poema na sua realização contraditória. A afirmação do poema é um acto vital, uma travessia, que requer a dilaceração da morte como condição primeira da criação poética.
Desafiando a efusão lírica, a eloquência e os artifícios demasiado intelectuais, estas elegias também evocam lugares, pessoas, coisas, estados, circunstâncias. Escritas em Portugal, aludem a referentes que se situam em Coimbra – a Praça do Comércio, a Rua do Corvo, onde o sujeito poético, de forma onírica e surreal se encontra com Miguel Torga, a igreja do Carmo, na Rua da Sofia, Santa Clara, a Quinta das Lágrimas, o rio Mondego.
A solidariedade profunda com tudo o que é desvalido e vulnerável, com a vida humana sujeita a quedas e abandonos, com o infortúnio e a marginalidade, revela-se transversalmente num discurso ético-social enunciado, aliás, na Elegia 14 – “Dos Derrotados” – desta maneira: Estarei sempre entre os derrotados, os feridos pelo mais forte, os famintos/os que têm sede e pedem ás samaritanas esquecidas que os socorram.
A memória vai urdindo a tessitura do poema como lastro onde se instalam dramas íntimos, acidentes e incidentes em que surge toda a angústia do Homem a contas com o Tempo. Na Elegia 11 – Da Memória – a imagem do Pai surge como símbolo tutelar que se infiltra na própria poesia: O espírito de meu pai passeia sempre pelos meus versos/com passos tão leves que nenhum poeta percebe/nem eu que sou filho e ainda ouço suas palavras/quando me abraçou em um dia que sentia frio/e nunca mais esse frio saiu de mim/como se eu fosse o mar de que me falava/e o navio com que atravessou o oceano levando um sonho no bolso.
Essa memória permite congregar as pessoas: aquelas que não chegaram a viver; e se deixaram levar pelas águas; as que apagaram as fotografias e as cartas esquecidas para ninguém, no desabafo do próprio poeta.
Associada à memória, surge como temática a passagem do tempo e os seus efeitos. O poeta-monge deambula pela vida vestido com um manto já desfeito, que ele define com estas palavras: o tecido que cobre os ombros mistura-se ao tempo; esse ter sido (paronímia com tecido) que cobre o corpo e os pés ; o tecido que cobre a face sem que a face perceba. Assim, na Elegia 8 – “Da Alma” – a metáfora do manto é retomada como subterfúgio para sugerir a quase clandestinidade, isolamento e ostracismo a que se quer votar o poeta-monge: Não te chores em teu pranto, nem te vistas no teu medo/guarda a vida em segredo, escondida no teu manto.
Nesta pseudo-ascese, o sujeito poético envereda por um misticismo a que não faltam as rezas e a clausura para enganar o tempo que se despreza em orações antigas,/quando Deus ainda não se sentia só/e cantava com santos e anjos e lia livros sagrados (Elegia 16 – “Da Palavra”). E entrando na igreja do Carmo, na Rua da Sofia, o poeta, no seu constante monólogo evocativo, lastima-se:
Nesta igreja lembro dos poetas que se mataram
porque acreditaram demais na palavra,
na poesia intensa, nada mais do que a dor imensa
que costura a boca e cala o grito que se lamenta,
mata a alma pequena, mas sempre densa,
tira a vida nessa morte que aumenta:
a cabeça está morta,
mas ainda sonha, ainda pensa.
Elegia 17 – “Das Igrejas”.
Como se pode inferir, esta percepção da longa viagem que implica a vocação da poesia faz com que o poeta nada explique, mas tudo, através da sua voz, se torne explicável. Ao criar um verso, mesmo sem rima nem metro, define no mistério e segredo da sua intimidade uma função dupla e recíproca, pela qual o homem absorve a vida e restitui, no acto supremo da expiração, uma palavra inteligível: ela vai incluir o sentido, a sensibilidade, a inteligência e a intuição mística. Ela é uma interpretação de Deus, do homem e do mundo, interpretação poética por excelência.
Sou o homem das alamedas,
que anda devagar coberto pelas árvores
com a memória arrancada da cabeça.
Elegia 23 – “Do Final”
No fundo da noite,
neste poço nocturno,
caminho ruas pequenas de Coimbra
à procura dos poetas escondidos na minha memória,
os que me possam falar de poesia,
essa palavra escondida nos livros mortos
nas estantes das bibliotecas
e nos cadernos fechados de mulheres infelizes.
(…)
A noite é pequena para o poema
e o poema é pequeno para a noite.
No entanto, o mundo é vasto
como a casa sem portas onde vivo.
Elegia 21 – “Da Memória”
É deste modo que o poeta se identifica, nessa paradoxal contingência da criação literária, que desafia o ouvido atento de quem o queira ouvir e entender.
Leocádia Regalo
Coimbra, Casa da Escrita, 21/10/2017
Fotos
















